Atalaia de Acaiene
O Carnaval
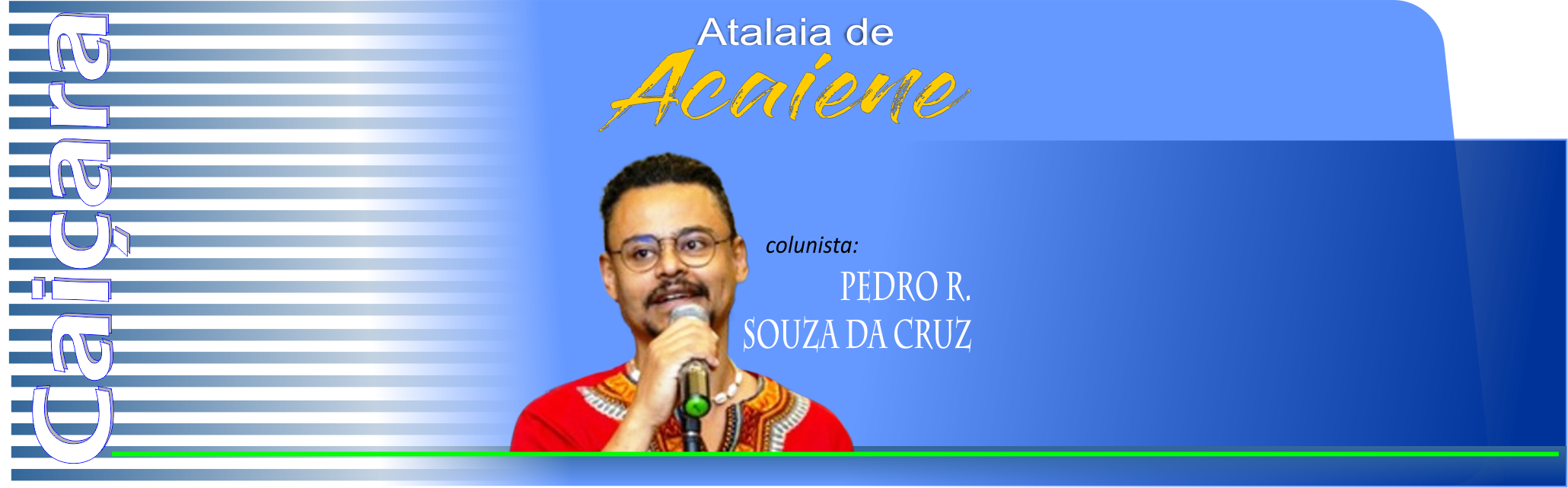
Moramos em um país com diversos problemas, violência, desigualdade, fome, desagregação social, enfim. É muito fácil, nessas condições, desacreditar no nosso potencial enquanto país, ou até como possibilidade civilizatória. Acabamos por nos comparar ao ideal eurocêntrico de sociedade: ordeira, sistemática e contratual. Eu mesmo já caí nesse engodo, de pensar que a solução para o Brasil passa por copiar os países ditos desenvolvidos, afinal, é o que é apresentado enquanto saída para uma nação do capitalismo periférico como o nosso. Acontece que não há solução para o colonizado que se dedique a mimetizar o seu algoz e, mesmo que seguíssemos os passos da metrópole, replicaríamos a desgraça do capitalismo tardio: explorar, ocupar e pilhar outras nações afim de afirmar nossa identidade e criar estabilidade interna ao custo da instabilidade alheia.
Com a graça dos meus santos, pude entender meu equívoco e mudar minha própria posição. E creio, cada dia com mais intensidade, que vivemos em um dos lugares do planeta com as tecnologias mais avançadas de anticolonialismo. O empreendimento colonial é baseado em extermínio, morte e miséria. Em meio a um cenário tão lúgubre, ainda fomos capazes de criar alegria, música e dança. Enfim, vida. Não raro ouvimos nossos compatriotas maldizerem as festas de rua, em especial o Carnaval. Este seria um “desperdício de recursos”, “uma farra inconsequente” ou a confirmação de que nós, enquanto povo, só serviríamos para o lazer inconsequente, sem compromisso com a moral sisuda do trabalho. Nos distanciamos, é certo, da ética protestante que funda o capitalismo como o conhecemos. Que bom.
Carnaval, essa festa rueira que para um país de 200 milhões de habitantes por quatro dias – um enorme acinte. Afinal, como ficam a produtividade, o PIB, os barões que nos assaltam diariamente? Sempre haverá o lacaio que defenderá sua condição de servidão mais ferozmente que seu próprio senhor. “Aqui só se pensa em feriados”, dirá, para o aplauso de quem o segura na coleira. Ocorre que não existe dominação mais plena do que aquela em que a classe dominante convence os dominados de que sua condição, em realidade, é melhor do que seria sem a tutela patriarcal a qual se encontram submetidos. Essa, sim, é a verdadeira chaga que devemos combater.
As festas de rua, das quais a mais apoteótica é o carnaval, são justamente uma das ferramentas mais potentes de combate ao julgo de 500 anos em que nos encontramos. Aqui nos ensinam Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino que as ruas carregam enorme potência de transformação – e, de fato, foram o que permitiram alguma possibilidade de sociedade em meio ao horror. O espaço urbano, de convivência e encontro, é o campo de batalha em que se desenrola o duelo que definirá se seguiremos sob julgo ou se romperemos as correntes. A encruzilhada é o caminho, assim Exu ensina. Não à toa, é nesse ambiente que desfilamos, cantamos, e seguimos em marcha entoando nossas canções, não de conformismo, mas de guerra.
Aqui talvez o leitor tenha dificuldade de vislumbrar tal estratégia bélica tão insidiosa. Pois, para citar um exemplo, temos o enredo da Vai-Vai desse ano, a crítica mais contundente ao braço armado do estado que serve para exterminar seus concidadãos. O Carnaval é político e engajado. A festa coexiste com a luta e, quiçá, essa seja justamente a forma mais sofisticada de peleja já elaborada pela humanidade. Aqui empresto as palavras de Nietzsche: “eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar”. Na mitologia afro-brasileira, impregnada no Carnaval, as deidades dançam. E o fazem ao mesmo tempo em que nos amparam, consolam e energizam. A irreverência, alegria e gingado é o que nos difere da crueldade indiferente e burocrática do capitalismo.
Não é por acaso que a capoeira, nossa arte marcial, é também uma dança. Dança de Guerra, como chamou o grande Mestre Jair Moura. Nossas divindades nos fizeram à sua imagem e semelhança: assim como elas, nós dançamos. Aí reside nosso trunfo: como disse antes, não podemos esperar sucesso com as armas que o inimigo nos apresenta, há que ignorar tal manobra diversionista. Nossos ancestrais entenderam isso, e nos muniram com a mais potente das armas, as que melhor confundem nossos oponentes. Outra lógica de mundo, mais humanista, fraterna e justa encontra-se bem diante de nós. Os incautos chamarão de folia, mas o mais correto é treinamento. “O dia em que o morro descer e não for carnaval ninguém vai ficar pra assistir o desfile final”.
Na nossa região, não se goza o Carnaval da mesma maneira como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro ou mesmo São Paulo. Não é obra do acaso: a presença negra nessas regiões se faz sentir mais que nos estados do Paraná e Santa Catarina. Estes, ainda presos na ideia equivocada de imitar a Europa, aqueles mais avançados em explorar a preciosa vocação mestiça do país. Como vaticinou o grande sambista Wilson das Neves “O dia em que o morro descer e não for Carnaval ninguém vai ficar pra assistir o desfile final”.
Pedro Rodrigues Sousa da Cruz
Professor e pesquisador do IFPR União da Vitória, graduado em Biologia e doutor em Genética Humana pela UNICAMP, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas/IFPR, capoeirista da Casa Avuô e integrante do grupo de percussão Maracá.

Veja Também
Atalaia de Acaiene
Reflexões sobre a Consciência Negra
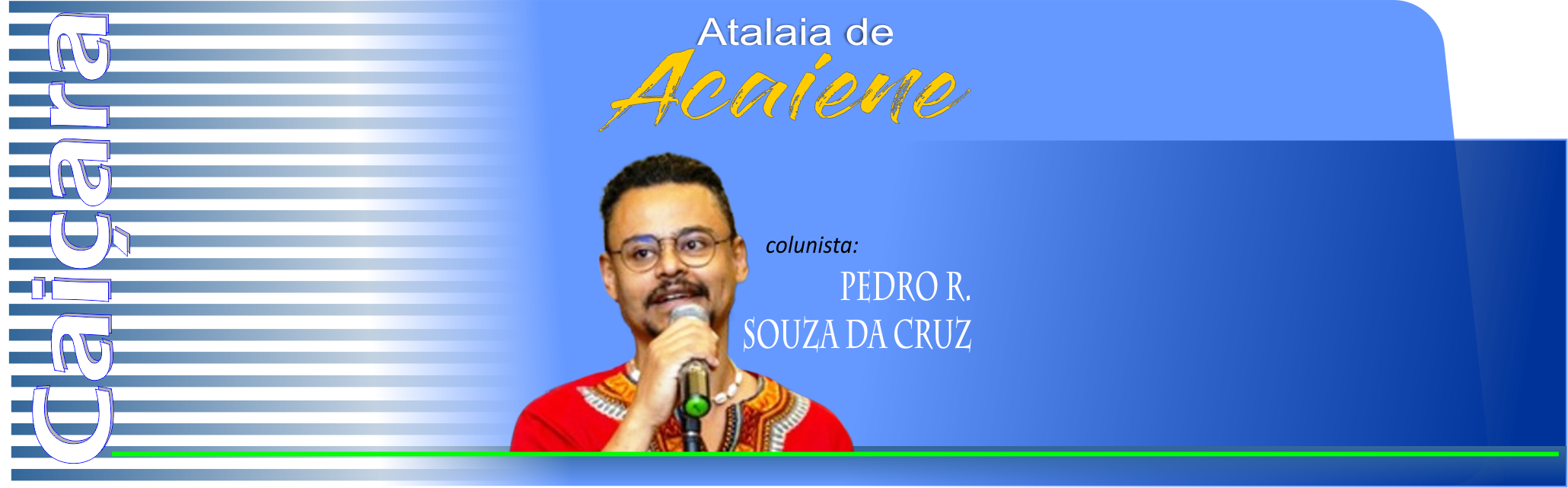
Mês passado passamos por um marco importante, o último 20 de novembro foi feriado nacional pela primeira vez, dada a instituição do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra pela lei nº 14.759 de 2023. É, sem dúvida, um avanço importante a homenagem a Zumbi dos Palmares e a dedicação da data para reflexão e cultivo de nossa memória histórica. A data rememora a captura e assassinato do líder palmarino a 330 anos atrás, e foi reivindicada por muitos anos como símbolo da resistência negra e da conscientização acerca do racismo em contraposição ao 13 de maio de 1888, data da Abolição. Esta última, ocorrida há apenas 136 anos, carrega consigo a dupla insígnia da vergonha: em primeiro lugar, por nos lembrar que fomos o último país do mundo a abandonar o regime escravocrata e, em segundo, pela tentativa de glorificar a família real, na forma da Princesa Isabel. A busca por pintar a família Orleans e Bragança como heroica esbarra na própria história, já que em 1889, ano seguinte à Abolição, cai o Império e se inicia a República, demostrando como a manutenção dos estratos dominantes e as estruturas de poder eram profundamente dependentes da aberração histórica da escravidão.
O estabelecimento oficial da data é importante ainda por combater dois dos grandes problemas que temos enquanto nação: a tendência ao esquecimento da nossa história e a contemporização. É por conta destes equívocos que perdoamos os perpetradores dos mais nefastos crimes contra nosso povo, como os torturadores na ditadura civil-militar ou até romantizamos o papel de abusadores, assassinos e traficantes de escravizados como os bandeirantes, os senhores de engenho, barões do café, coronéis e generais como os que atuaram exterminando as populações caboclas na região em que nos encontramos. Exemplo disso é que a artilharia da 5ª Divisão do Exército recebe o nome de Marechal Setembrino de Carvalho. Não se trata de revirar o passado, pois ele se encontra muito presente, a exemplo do recente debate sobre anistia aos que buscaram derrubar o estado democrático de direito no ano passado. O episódio nos remete ao general Olympio Mourão Filho, anistiado por tentativa de golpe em 1961 e um dos conspiradores no golpe de 1964: o perdão e a conciliação nos leva a repetir a nossa (triste) história.
Eu entendo que essa discussão tem o condão de trazer um incômodo em grande parte das pessoas, pois elas imaginam que rememorar significa o mesmo que não buscar a superação, quando é exatamente o oposto. Apenas podemos virar a página ao compreendermos os fatos e extrairmos deles as lições para evitarmos cair nos mesmos erros. Há também o falso entendimento de que a responsabilização e a reparação são formas de manter conflitos quando deveríamos buscar a “pacificação” e a “harmonia”. Ocorre que não se constrói uma sociedade harmônica empurrando para baixo do tapete os problemas e forçando uma conciliação que nunca ocorreu. Ainda há extermínio de povos indígenas, ainda há uma severa estratificação social por conta do racismo, populações marginalizadas continuam sob o controle do braço armado do estado, ainda há escravidão, a tortura de presos se disseminou nos presídios e membros das forças armadas ainda fazem ameaça de ruptura em plena luz do dia. Assistimos a agentes de segurança arremessarem um homem de uma ponte e um outro executar com 11 tiros um rapaz pelo crime de furtar produtos de limpeza. Naturalizamos o horror para não ter de cumprir o dever cívico de reconhecer nossa história, repleta de violência desde a sua fundação.
Há, ainda, outro erro comum que surge no debate sobre o Dia da Consciência Negra: a ideia de que precisamos de uma “consciência humana”, que olhe e valorize igualmente qualquer pessoa, independentemente de raça, cor, credo ou origem. Apesar de bem-intencionada, essa ideia é enganosa ao equiparar pessoas que lutam contra a desumanização com aquelas que têm prontamente sua cidadania e direitos garantidos. As estatísticas mostram que não são predominantemente as pessoas de origem asiática, europeia ou árabe que sofrem cotidianamente os abusos policiais, a execução sumária, as prisões preventivas que se arrastam por anos sem julgamento, o subemprego, a indigência e falta de condições dignas de vida.
Ademais, nenhum grupo conquistou direitos defendendo “consciência humana”, basta imaginar como seria cômico imaginar que os judeus, grupo vitimizado pelo holocausto, defendessem no pós-guerra os direitos de dignidade, autodeterminação e liberdade não para si próprios apenas, mas para os alemães, colaboradores ou não do extermínio. Ou se os oficiais fossem perdoados em nome da pacificação e de “virar a página”. Claro que devemos olhar para todos os flagelados, independentemente de sua origem, mas sem com isso esconder que há grupos mais vulneráveis e que isso se dá pelo persistente racismo em nossa sociedade.
Pedro Rodrigues Sousa da Cruz
Professor e pesquisador do IFPR União da Vitória, graduado em Biologia e doutor em Genética Humana pela UNICAMP, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas/IFPR, capoeirista da Casa Avuô e integrante do grupo de percussão Maracá.
Atalaia de Acaiene
Capoeira
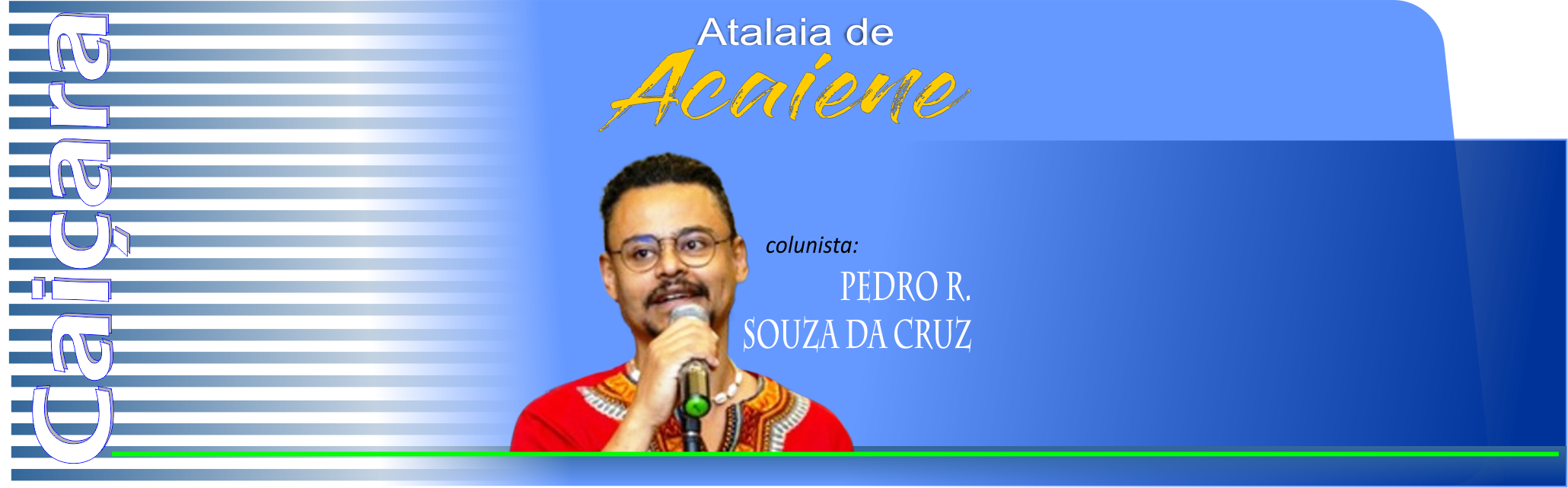
Não sou originário da região do Vale do Iguaçu, mas venho de terras longínquas, nasci em Belém do Pará e me criei em São Paulo. E nestes dois anos vivendo nas Gêmeas, aprendi muito sobre mim mesmo. E há aí um elemento essencial nesse processo de aprendizado: a capoeira. É graças a ela e por meio dela que tenho achado meus caminhos. É essa manifestação popular que dá significado à minha vinda para o Paraná, que encontrei ao começar a dar aula de capoeira e aprofundar meus estudos sobre a riqueza de saberes que ela contém.
Sempre fui bastante curioso e busquei aprender sobre diferentes áreas e, apesar de ser biólogo, meu diletantismo me fez um grande apreciador da política, sociologia e filosofia. Como boa parte dos professores, prossegui depois da graduação para a pós, participei de congressos, escrevi artigos científicos. Tive o imenso privilégio de dedicar grande parcela da minha vida aos estudos, me tornei pesquisador e me familiarizei com a produção de conhecimento sob a perspectiva da nossa era (ao menos no ocidente). Mas isso tudo não me ajudou a constituir a visão de mundo que tenho hoje, e que me permite me situar no mundo e entender um pouco mais sobre meu propósito. A filosofia da capoeira, que também está no jongo, reisados, congadas e expressões culturais diversas é a maior preciosidade que já encontrei até hoje. Um dos ensinamentos é passar para frente aquilo que se aprende com respeito e reverência aos que chegaram antes. E essa é a ideia da presente coluna.
É por conta desse preceito que dou aulas e ofereço oficinas nas escolas para compartilhar um pouco do que sei sobre a capoeira. Sofisticada demais para que se possa apreender seus significados em apenas um encontro, um texto ou numa conversa, ela também é poderosa o suficiente para mudar o rumo de uma vida apenas com um contato fugaz. Nos espaços em que abordo a capoeira, tento trazer reflexões que talvez sirvam para desencadear mudanças maiores naqueles que se sintam tocados. Aqui vou destacar alguns elementos centrais na capoeira que acredito serem cruciais. O uso do termo “crucial” aqui não é acidental, a palavra se origina de Instantia Crucis, plaquetas em forma de cruz que orientam quem passa por um cruzamento entre vias, ou seja, se encontra em uma encruzilhada.
A circularidade talvez seja um dos pilares mais importantes da capoeira. Presente na roda, no canto e na movimentação, ela apresenta outra visão sobre a nossa existência. Enquanto o pensamento ocidental é linear, apegado à ideia de avanço, progresso e objetivo final; a circularidade é mais honesta e realista. A existência humana não é análoga aos capítulos de um livro ou episódios de uma série, mas opera muito mais como o próprio mundo e o que nele habita: ocorre em ciclos, estações que se repetem, idas e vindas. Às vezes se está por cima, em outras, por baixo; temos alternância entre alegrias e decepções e até a vida em si se repete: a começarmos indefesos e dependentes quando crianças, estado ao qual retornamos na idade avançada. Abandonar a ideia de linha reta, de que tudo é meio para um determinado fim, significa se libertar de uma avalanche de expectativas irreais e da prisão utilitarista em que nos encontramos.
Aqui entra outro grande saber: devemos sempre retornar para podemos avançar. Não existe futuro sem o resgate do passado. Sem consultar e reverenciar nossos predecessores, corremos o risco de nos vermos como elos soltos, quando na realidade estamos atados aos que vieram antes. Por isso que a cultura popular que vem da diáspora africana é tão firmemente ligada aos antepassados. Derivada do conceito de circularidade, o culto à ancestralidade implica que o passado em si não passa, mas permanece como parte de nós. Em um mundo voltado cegamente para o futuro, ficamos mutilados dessa parte e perdemos a referência de nós mesmos ao acharmos que a constituição do nosso “eu” está separada do “nós”. É fácil de ver o quanto, na capoeira, há repetidas referências aos mais velhos, os mestres, os pais, os anciãos – e essa é a mensagem sendo passada, por sinal, entre gerações.
Assim como nossa existência está atada aos que vieram antes, ela também está ligada aos nossos semelhantes vivos. Na roda há claramente participação e diálogo entre todos os envolvidos. Seja cantando, tocando, jogando ou batendo palma, todos são pertencentes. E o diálogo, na forma de proposição e resposta, é perceptível no jogo, no canto, nos instrumentos e entre esses constituintes. O berimbau “conversa” com a voz e também com o pandeiro, e toda a percussão dialoga com o jogo, que também influencia no canto. Esses diálogos que se dão de maneira concomitante carregam um propósito: unir partes num todo muito mais poderoso que a simples soma dos indivíduos. Em outras palavras, “eu sou porque nós somos”. A coletividade seja talvez uma das mais subversivas mensagens da capoeira, o que a fez ser muito perseguida e ainda hoje temida. Se todos experimentassem esse senso de integração e comunhão, seríamos muito menos sujeitos à exploração e à manipulação.
Enfim, a capoeira é uma arma que protege seu povo não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. E isso faz dela muito mais transformadora e contundente do que outra arte marcial.
Atalaia de Acaiene
Estamos ficando doidos?
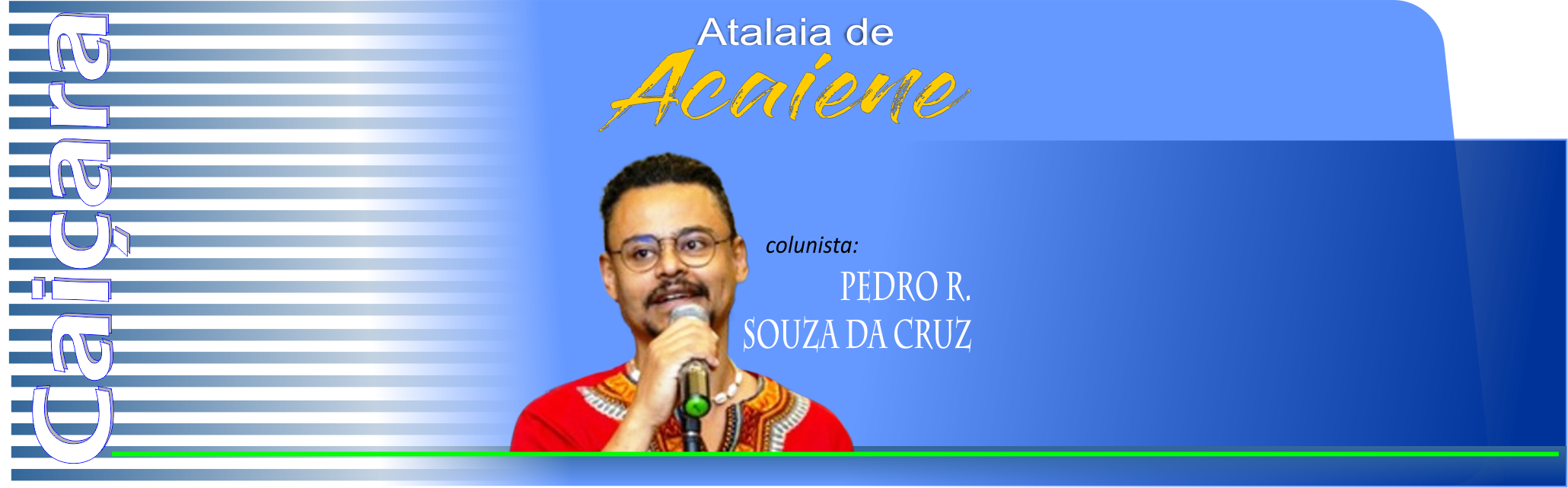
Venho esses tempos percebendo como a disfuncionalidade se tornou o padrão da nossa sociedade. Explico. Procure se lembrar de quantas pessoas conhece que estão tratando algum transtorno como ansiedade generalizada, burnout ou depressão. Certamente conseguiu lembrar de algumas, certo? E quantas, em tratamento ou não, apresentam as mais diversas dependências, seja por álcool ou outras drogas, pornografia, jogos, compras e/ou uso excessivo de celular? Pode bem ser que você mesmo se identifique com alguns desses padrões. Imagine, agora, se considerarmos quantos de nós enfrentamos disfunções subclínicas, como síndrome do impostor (transtorno em que a pessoa acometida se sente incapaz, duvida das próprias habilidades e atribui suas conquistas à sorte), senso de desconexão com as outras pessoas, cansaço crônico, problemas de libido? Se você não se identifica com nada descrito acima, parabéns, você talvez seja a última pessoa plena na face da Terra.
É claro que tais moléstias não são em si novas, nos acompanham há muito tempo em variadas formas. Aliás, em alguns casos há predisposição genética, e seria um grande erro atribuir prevalência apenas às condições de vida. E há algo de extremamente positivo no fenômeno de agora enxergarmos tantos casos ao nosso redor: há, enfim, maior conscientização, compreensão, busca por tratamento e diversas abordagens terapêuticas. Para exemplificar de uma forma anedótica, é comum ler em perfis de aplicativos de namoro o atributo “terapia em dia” como selo de qualidade. Em alguns círculos sociais, fazer psicoterapia é visto como imperativo moral, um dever cívico e uma condição básica para o convívio em sociedade. Se talvez aqui a ideia seja um pouco exagerada, é um grande avanço em relação à noção, cada vez mais arcaica, que terapia é coisa de quem perdeu a sanidade – de “loucos”. De fato, já fiz psicoterapia e acredito que todos devam passar pela experiência, ao menos de tempos em tempos, da mesma forma como fazemos checkup, exames de rotina e vamos ao dentista para evitar que algum problema mais grave se instale. Porque, afinal, a saúde mental é tão importante quanto à física – e está intimamente vinculada a esta.
Faz parte ainda do mesmo fenômeno a busca por outras formas de autoconhecimento e superação de traumas, sejam formas sérias como a já citada psicanálise, bem como Thai Chi, arteterapia ou filosofia. Sim, a filosofia, tanto ocidental quanto oriental, carrega incontáveis reflexões sobre o fardo da existência terrena e como lidar com ele. Ilustro com algo muito concreto – existe uma febre sobre o estoicismo, a ponto de estampar a capa da revista Superinteressante recentemente. E há, claro, as formas mais duvidosas de buscar maior consciência sobre si, como constelação familiar, eneagrama, programação neurolinguística e as “técnicas” de uma infinidade de coachs que enriquecem à base das inseguranças e vulnerabilidades alheias. No meio do caminho há teorias sérias que foram sendo desfiguradas, como o sistema MBTI e a pirâmide de Maslow.
Um dos maiores escritores de todos os tempos, Machado de Assis, elabora uma tese em 1882 a respeito de sanidade mental no primoroso livro intitulado “O Alienista”. Não vou estragar a leitura de quem ainda não se deu a esse deleite, mas faço conjectura correlata: pode ser que o que convencionamos chamar de “disfunção” ou “transtorno” bem sejam a condição padrão do ser humano, dada sua frequência. De perto ninguém é normal. Mas me assombra uma outra hipótese do que essa acima, talvez estejamos, sim, diante de uma pandemia global de desregulação de um suposto equilíbrio psicoemocional. Corroboram para essa visão mais pessimista o fato de que a ansiedade, por exemplo, não se distribui de maneira homogênea nem geograficamente, nem entre classes socioeconômicas, nem entre gêneros e sequer entre diferentes faixas etárias.
Em um artigo de 2021 publicado no periódico científico “Epidemiology and Psychiatric Sciences”, Yang e colegas analisaram dados de 204 países e identificaram um aumento geral na incidência de ansiedade no período entre 1990 e 20191, e identificaram mulheres, adolescentes e pessoas em condição de vulnerabilidade social como grupos de risco. Do ponto de vista regional, países do centro do sistema capitalista (Estados Unidos, Canadá, Europa ocidental e Austrália) possuem as taxas mais altas, talvez por maior abordagem midiática e acesso a diagnóstico. Chama atenção, porém, que países da periferia do sistema, como os da América Latina, tenham taxas próximas aos países do centro. O Brasil, por exemplo, é a nação mais ansiosa do mundo, com taxas altíssimas de incidência. Há, portanto, mais fatores a serem considerados que apenas informação, acesso aos serviços de saúde e métodos mais efetivos de identificação. Existe uma dimensão social que não está sendo devidamente considerada.
É possível que exista aí uma relação com uma sociedade voltada para o individualismo extremo, em que a vaidade é incentivada por meio das redes sociais, em que os laços de confiança são deteriorados em favor da competição constante, em que os padrões de beleza e sucesso são cada vez mais inalcançáveis, a noção de reconhecimento se dê pelo consumo e não por integração social, a cobrança por produtividade é desumana e em que a renda atinge níveis estratosféricos de concentração. Quem sabe estejamos errando ao buscar apenas saídas individuais (terapia, meditação, etc) para um problema coletivo. Quiçá o tratamento para esse mal passa por nos reconectarmos, buscarmos reconstruir relações sociais que foram se perdendo. Acredito que não exista nada mais subversivo que nos aproximarmos enquanto iguais. Pode ser em associações de bairro, cooperativas, clubes de afinidade, sindicatos, grupo musical, grêmio e outras organizações. E renunciarmos ao ímpeto de superar os demais, mas incluir nosso próximo, estar junto aos nossos semelhantes sem a busca por protagonismo individual, mas compreendendo que a felicidade apenas é real quando compartilhada.
- Yang, X., Fang, Y., Chen, H., Zhang, T., Yin, X., Man, J., Yang, L., & Lu, M. (2021). Global, regional and national burden of anxiety disorders from 1990 to 2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 30. https://doi.org/10.1017/s2045796021000275
Pedro Rodrigues Sousa da Cruz
Professor e pesquisador do IFPR União da Vitória, graduado em Biologia e doutor em Genética Humana pela UNICAMP, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas/IFPR, capoeirista da Casa Avuô e integrante do grupo de percussão Maracá.




